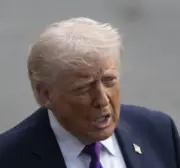A inclusão de diversos Estados não-ocidentais no recém-instituído Conselho de Paz para Gaza tem sido retratado com um passo diplomático construtivo rumo ao fim da violência, bem como à reconstrução pós-guerra. Partidários descrevem o novo esquema como um arranjo pragmático, uma forma de supostamente contribuir para proteção humanitária e estabilidade política. Contudo, muito além das perguntas sobre aderência e boa vontade, resta uma questão ainda mais perturbadora: que tipo de paz é essa que dizem buscar; e a que custo?
O conflito israelo-palestino não é uma emergência humanitária oriunda de uma violência espontânea, mas sim um dos casos mais bem documentados de delongada ocupação na história moderna. Por décadas, a lei internacional conferiu um panorama claro para tratar do conflito, com foco na autodeterminação, ilegalidade da ocupação e responsabilização devida por violações das normas internacionais. A crise em Gaza, portanto, não constitui uma falha das normas, mas de sua aplicação.
É neste contexto que a emergência de mecanismos de paz ad hoc como este Conselho de Paz requer escrutínio.
Paz aquém da estrutura da lei internacional
Historicamente, a moderna ordem legal internacional emergiu das ruínas da dominação colonial e de ambas as guerras mundiais. Sua promessa fundamental era que a paz não mais se definiria pela mera ausência de conflitos, mas por uma ideia de justiça. Princípios como autodeterminação, integridade territorial e responsabilidade legal nasceram então como meio de prevenir a normalização dos anseios de conquista e ocupação.
Tamanha arquitetura normativa se institucionalizou através das Nações Unidas e de seus instrumentos legais. Apesar de suas muitas limitações políticas, o sistema da ONU segue como enquadramento primário pelo qual devem se solucionar conflitos de ocupação ou com raízes coloniais. A questão palestina, em particular, há muito é reconhecida sob essa lente, como matéria de descolonização e justiça internacional.
Ainda assim, ao longo do tempo — sobretudo no período pós-Guerra Fria —, o sentido de paz na diplomacia global mudou de eixo. A paz foi equiparada, cada vez mais, com a ideia de estabilidade, em vez de justiça. Conflitos são gerenciados e não resolvidos; a violência é contida em vez de abordada em seu âmago estrutural. Essa lógica deu vazão àquilo que costumamos chamar de gestão de conflito: uma abordagem que prioriza e segurança e a governança em vez de direitos políticos e reparação histórica.
Os perigos de iniciativas como o atual Conselho de Paz estão justamente aqui. Quando os processos de paz atuam fora dos panoramas legais estabelecidos, perigam redefinir a paz como um exercício tecnocrata, focado em auxílio humanitário, reconstrução e transições administrativas — deixando incólumes estruturas subjacentes de dominação. A violência pode até mesmo minguar, mas as condições que a produzem seguem intocadas.
No contexto palestino, essa abordagem tem um histórico aberrante bastante conhecido. Sucessivos planos de paz reduziram uma luta essencialmente política contra a ocupação a uma série de crises humanitárias e de segurança. A ocupação em si se tornou plano de fundo em vez de problema primordial. A estabilidade substituiu a justiça como marca do sucesso.
Paz sem justiça, no entanto, não é paz — é empurrar com a barriga.
Autonomia palestina e transações por legitimidade
Igualmente problemática é a questão de quais aspirações integram tais supostos planos de paz. Iniciativas internacionais costumam insistir que agem “em nome” dos palestinos, embora marginalizem qualquer autonomia política palestina. O direito a um Estado, ou à autodeterminação e soberania dos povos são nada mais que promessas distantes, sobre a mesa de negociações, ao passo que a gestão humanitária se torna protagonista.
Tamanha inversão tampouco é incidental, ao refletir uma tendência ampla da governança internacional de despolitizar conflitos que tenham raízes na colonização ou em relações assimétricas de poder. Os palestinos surgem como coitados que requerem proteção, mas nunca como povo autônomo com direitos políticos próprios sob a lei internacional.
De um ponto de vista normativo, trata-se de um enquadramento profundamente falho. O sofrimento humanitário em Gaza não é causa do conflito, é consequência. Desvincular a assistência humanitária da justiça arrisca converter a expropriação dos palestinos a uma condição permanente de subjugação internacional, em vez de injustiça histórica a ser, de uma vez por todas, remediada.
É aqui que a participação de países não-ocidentais se torna particularmente importante. Estados pós-coloniais com longo compromisso com os direitos palestinos servem então de capital moral na diplomacia global. Seu envolvimento em iniciativas de paz costumam ser lidos como verniz de moderação ou legitimidade. Capitular, contudo, tem seus riscos. Quando Estados com forte reputação normativa aderem a mecanismos estruturalmente falhos, legitimam, querendo ou não, abordagens que ignoram questões políticas, legais e mesmo históricas. Tamanha legitimação estrutural tampouco exige apoio explícito; pode operar com certo apuro, por mera presença e silêncio cúmplice.
A questão, portanto, não é se Estados não-ocidentais deveriam se engajar nos diferentes cenários internacionais, mas como — e sob quais paradigmas. Engajar-se de maneira a reforçar a lei internacional e a centralidade dos direitos palestinos contra a colonização e a ocupação poderia fortalecer o paradigma com base em normas. Priorizar uma suposta estabilidade, no entanto, acima da justiça, apenas erode a ordem internacional.
Paz para quem?
A questão central diante do Conselho de Paz não é sua eficácia, mas seu viés. A paz aqui alude a uma busca por justiça, ou mecanismo para administrar instabilidades? A história sugere que processos de paz alheios à justiça raramente perduram. Podem até abrandar a violência imediata, mas se recusam a confrontar as condições intrínsecas que tornam a violência algo inevitável.
Para o povo palestino, paz sem autodeterminação não é paz alguma. Para os países que integram a chamada comunidade internacional, paz sem responsabilização legal mina a própria ordem internacional, que tanto alegam defender. E para os Estados que aderem a tais iniciativas, o risco é evidente: tornar-se agende da normalização da injustiça e não de qualquer solução.
Cá resta, porém, uma escolha crítica. Estados envolvidos no Conselho de Paz podem até afirmar que o paradigma de paz, seja qual for, permaneça ancorado na lei internacional; que não substituem os mecanismos da ONU; e que seguem a tratar a autodeterminação do povo palestino não como anseio, mas como princípio inegociável. Contudo, sem seu compromisso indubitável, nos termos acima, iniciativas como o Conselho de Paz não são nada mais, nada menos que outro capítulo em um perturbador padrão de décadas: uma série de processos de paz que administram a violência e a injustiça, ao consentirem com sua eficácia e assiduidade.
LEIA: O Conselho de Paz e a economia da ocupação
As opiniões expressas neste artigo são de responsabilidade do autor e não refletem necessariamente a política editorial do Middle East Monitor.

![Presidentes Donald Trump (Estados Unidos), Ilham Aliyev (Azerbaijão), Javier Milei (Argentina); premiês Nikol Pashinyan (Armênia), Viktor Orban (Hungria); e ministro de relações da Turquia, Hakan Fidan, durante cerimônia de lançamento do chamado Conselho de Paz para Gaza, durante o Fórum Econômico Mundial, de Davos, na Suíça, em 22 de janeiro de 2026 [Harun Özalp/Agência Anadolu]](https://www.monitordooriente.com/wp-content/uploads/2026/01/AA-20260122-40336111-40336101-SIGNING_THE_CHARTER_OF_BOARD_OF_PEACE_IN_DAVOS-scaled-e1769351606582.webp)