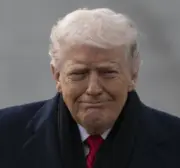O plano de vinte pontos apresentado por Donald Trump no outono de 2025, apresentado como uma solução para encerrar a guerra de Gaza, tenta, aparentemente, estabelecer uma estrutura para a paz e a reconstrução no Oriente Médio. No entanto, por baixo da superfície, este plano é menos uma proposta de paz e mais um sinal de uma nova engenharia geopolítica; cujo objetivo não é acabar com o conflito, mas redefinir o poder e o território no Oriente Médio em favor de Israel. Na realidade, este documento político, como os planos anteriores de Washington, é apenas um verniz diplomático para o surgimento gradual do “Grande Israel”, um conceito que tem lugar fundamental na história política do sionismo. Embora ostensivamente ofereça mecanismos para a reconstrução e gestão de Gaza, na prática, leva ao entrincheiramento e à institucionalização da influência israelense em toda a geografia da Palestina e áreas adjacentes.
O plano de vinte pontos de Trump parece basear-se em três pilares principais: segurança, reconstrução e governança transicional. No entanto, um exame mais atento de seu conteúdo revela que o conceito de segurança neste plano não visa alcançar a segurança mútua para ambas as partes, mas sim consolidar a segurança de Israel em todos os níveis. Nesse contexto, o desarmamento completo dos grupos de resistência palestinos e o envio de forças internacionais ao longo das fronteiras de Gaza significam, na prática, a entrega do controle da segurança a estruturas que estarão alinhadas ou subordinadas a Tel Aviv. Embora esse mecanismo seja apresentado como uma garantia de paz, na prática, ele esvazia a soberania palestina e legaliza a continuação da ocupação sob uma aparência multilateral. Tal abordagem já foi vista em acordos pós-conflito regional, resultando na estabilização do status quo.
No segundo pilar, a reconstrução, o plano enfatiza os investimentos árabes e a gestão de projetos por consórcios internacionais. No entanto, dentro da arquitetura econômica proposta, o papel de Israel como principal parceiro em tecnologia, infraestrutura e controle logístico está firmemente estabelecido. Essa estrutura efetivamente transforma a reconstrução em uma ferramenta para a integração econômica de Gaza na esfera de dependência de Israel. De uma perspectiva crítica, essa estrutura de reconstrução não é um ato humanitário, mas uma etapa do que poderia ser chamada de “paz neoliberal” — uma paz que, por meio de uma economia controlada, abre caminho para a expansão política. Em outras palavras, as disposições econômicas do plano, apesar de sua aparência de cooperação regional, refletem um domínio estrutural que transforma a economia de Gaza em um precursor da extensão da influência israelense.
O terceiro pilar, a governança transicional, é a parte mais ambígua e, ainda assim, a mais significativa do plano. Ele prevê que, até que a “estabilidade total” seja alcançada, Gaza será governada por um organismo internacional composto por atores selecionados. Do ponto de vista do direito internacional, esse modelo constitui uma espécie de tutela informal que opera sem soberania nacional ou mecanismos internos eletivos. Embora rotulado como transitório, precedentes históricos mostram que estruturas temporárias em conflitos no Oriente Médio frequentemente evoluem para ordens permanentes. Consequentemente, o conceito de “transição” neste plano é descrito com mais precisão como uma suspensão da soberania palestina — uma suspensão que estabelece as bases para a estabilização de novas formas de controle territorial. Dessa forma, as disposições transitórias habilmente pavimentam o caminho para a presença de longo prazo de Israel e seus aliados na estrutura administrativa de Gaza.
Além da estrutura interna do plano, o contexto geopolítico que o cerca também revela conexões mais profundas com o projeto do Grande Israel. Nos últimos anos, a política externa dos EUA no Oriente Médio se afastou de um modelo de mediação equilibrado, migrando para uma gestão de crises que beneficia seus aliados estratégicos. O plano de Trump, nesse contexto, é um passo em direção à legitimação das novas realidades de campo que Israel criou durante a guerra de Gaza. A delegação de poderes de segurança, a formalização de fronteiras de facto e a eliminação da possibilidade de regresso de refugiados alinham-se com a lógica sobre a qual se baseia a ideia do Grande Israel: expansão territorial, controle demográfico e hegemonia política sobre o meio ambiente. Esse modelo pode ser rastreado não apenas na Palestina, mas também nas políticas regionais de Washington em relação ao Líbano, Síria e Jordânia.
Um componente importante na análise crítica do plano é a linguagem e o discurso utilizados nele. Palavras como “segurança sustentável”, “reconstrução regional” e “gestão conjunta” carregam conotações positivas, mas, de uma perspectiva de análise do discurso, desempenham uma função ideológica. Essa linguagem convence o público internacional a aceitar uma situação em que o nome da paz oculta a continuação da dominação. Na realidade, o plano utiliza conceitos suaves para encobrir políticas duras. Essa técnica, conhecida nas relações internacionais como “paz condicionada à hegemonia”, é uma ferramenta eficaz para reproduzir o poder sem a necessidade de ocupação ostensiva. Assim, os termos utilizados no plano são, eles próprios, parte da estratégia de dominação.
Uma análise das implicações de campo do plano confirma essa interpretação. A implementação de suas disposições econômicas e de segurança, mesmo antes da aprovação formal, já alterou o equilíbrio de poder em Gaza e na Cisjordânia. As instituições locais foram enfraquecidas diante das novas estruturas internacionais, e o diálogo político palestino foi efetivamente marginalizado. Essas tendências indicam que o plano não é um mecanismo de resolução de crises, mas sim uma ferramenta para alterar gradualmente a realidade política em favor de Israel. Se essa trajetória continuar, o futuro a médio prazo poderá testemunhar a estabilização de uma ordem regional na qual Israel não apenas controle os territórios ocupados, mas também domine a equação mais ampla do Oriente Médio. Nesse cenário, as fronteiras geográficas dão lugar a fronteiras de influência e dependência — a própria imagem delineada pela teoria do Grande Israel há anos.
O plano de vinte pontos de Trump, aparentemente uma tentativa de encerrar uma guerra sangrenta, serve, em última análise, não como um tratado de paz, mas como uma declaração política para consolidar o domínio. Utilizando linguagem diplomática, ele estabelece um mecanismo no qual a paz se torna uma ferramenta para reproduzir o poder. Cada disposição, da segurança à reconstrução e governança de transição, em última análise, fortalece a posição de Israel e enfraquece a soberania palestina. Este plano, em sua essência, não se baseia em concessões, mas em controle.
Se a história de esforços fracassados de construção da paz no Oriente Médio nos ensinou alguma coisa, é que nenhum plano baseado em desigualdade e hegemonia pode levar a uma paz duradoura. O plano de vinte pontos de Trump não é exceção a essa regra; mais do que encerrar o conflito, ele marca um novo capítulo na criação de uma ordem regional onde Israel é maior, mais poderoso e mais geopoliticamente entrincheirado do que nunca. Assim, podemos dizer que este plano não é o fim da estrada, mas sim uma parada no caminho para a realização do sonho de um Grande Israel — um sonho agora mais próximo da realidade do que nunca, disfarçado sob a bandeira de uma paz passageira.
As opiniões expressas neste artigo são de responsabilidade do autor e não refletem necessariamente a política editorial do Middle East Monitor.

![O presidente dos EUA, Donald Trump, é recebido pelo presidente israelense Isaac Herzog e pelo primeiro-ministro Benjamin Netanyahu no Aeroporto Internacional Ben Gurion, em 13 de outubro de 2025, em Tel Aviv, Israel. [Chip Somodevilla/Getty Images]](https://www.monitordooriente.com/wp-content/uploads/2025/10/GettyImages-2240368470-scaled-e1760345345215-1.webp)